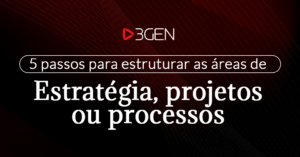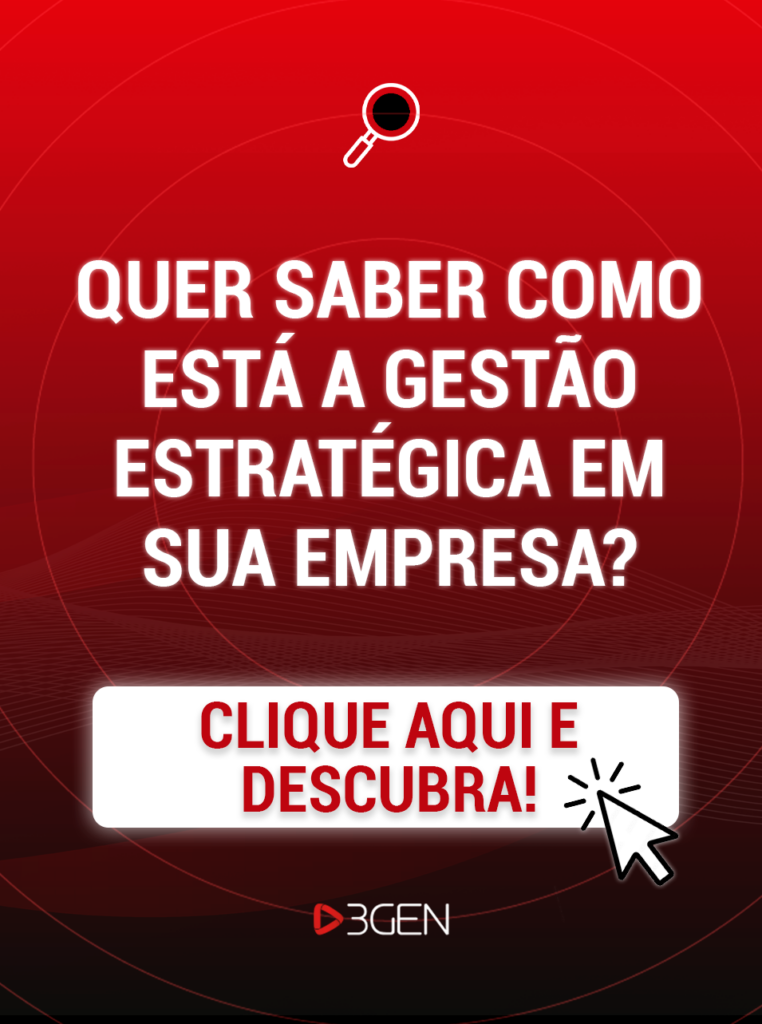04 de fevereiro de 2021 | Leitura: 10min
Dando sequência às lições apontadas por Fareed Zakaria em seu livro “Dez lições para um mundo pós-pandemia”, vamos ver as cinco lições que faltaram, complementando o artigo da semana passada.
__________
6. Aristóteles estava certo: nós somos animais sociais
Esta lição é clara e facilmente observável: nossa espécie é gregária, e ao longo da História temos favorecido cada vez mais a urbanização, a ponto de que teremos dois terços da população mundial residindo em cidades logo ali, no ano 2050.
Em pandemias pregressas — Peste Negra na Idade Média, por exemplo — a regra era deixar a aglomeração das cidades e se refugiar no campo, com poucas pessoas, aguardando pela passagem dos efeitos da doença na região antes de retornar para suas casas. Na ausência de qualquer compreensão sobre a doença e a total impossibilidade de gerar uma cura, o único recurso era o isolamento.
O que vem mudando nas cidades no último século, entre outras coisas é o consumo de recursos (comida, combustível, energia) que, pasme, vem se reduzindo, com alguns casos de concentração de poluição maior em algumas zonas rurais onde proliferam indústrias e uso exacerbado de combustíveis fósseis. Isso mesmo: aos poucos as cidades estão”se limpando”. Zakaria dá o exemplo do “Beco do Câncer”, uma região rural próxima ao rio Mississippi cercada de plantas petroquímicas onde a população — majoritariamente afrodescendente — enfrenta casos exacerbados de câncer. A noção de que o campo é mais limpo que a cidade precisa ser revisitada, pois há vários casos ilustrando o contrário. Sim, também fiquei espantado com isso.
O índice de reciclagem também é bem maior nos centros urbanos, e cidades na Ásia e na Europa começam a se superar em questão de eficiência energética e sustentabilidade.
Mas nem tudo são flores nas cidades, como quaisquer moradores de uma cidade — especialmente as cidades com mais de 100.000 habitantes — sabem. Trânsito, crime, abismos sociais crescentes, impermeabilização do solo, discriminação racial (velada ou explícita), e por aí vai.
Zakaria prevê mudanças nas cidades no pós-pandemia. Como exemplo de mudança no horizonte ele cita o plano da prefeita de Paris, Anne Hidalgo, que em sua campanha de reeleição propôs transformar Paris em uma “cidade de quinze minutos”, ou seja, reorganizar a cidade para que tudo o que um cidadão precisa esteja a no máximo 15 minutos de caminhada ou de pedalada. Supermercado, trabalho, escola, diversão, parques, hospitais, comércio, tudo a no máximo 15 minutos de distância, com o mínimo uso de automóveis que seja possível. Sonho? Nem tanto.
Esforços para uso de veículos de micromobilidade estão sendo feitos em várias cidades, com exemplos de sucesso sendo encontrados em Amsterdã, Oslo e várias cidades chinesas.
Outra tendência — propiciada pelas tecnologias digitais que nos permitem estar virtualmente presentes — é a troca da cidade grande pelo subúrbio ou pela cidade satélite — e, em muitos casos, pela cidade pequena e distante.
Zakaria prevê o que já pode ser constatado: uma redução grande na mobilidade aérea, algo que tende a ser permanente (ainda que não tão radical como vemos hoje). Por que gastar tempo precioso e dinheiro com passagens de avião e estadia se o Zoom ou o Google Meet permite que façamos a reunião “cada um em seu canto”?
7. A desigualdade vai piorar
Segundo o artista mexicano Jose Guadalupe Posada, “A morte é democrática”. O que o artista quis dizer é que todos morrem, ricos ou pobres, independente da nacionalidade, religião ou ideologia. Infelizmente a pandemia — que poderia ser vista como um grande equalizador — não está sendo lá muito democrática.
Infelizmente as estatísticas mostram que morrem (de COVID-19) mais pobres do que ricos em qualquer país e em países como nos EUA é possível inclusive aferir diferenças de mortalidade por etnia (os negros morrem em maior proporção por lá, por exemplo).
E não é só no âmbito social que a COVID-19 aumenta o abismo entre ricos e pobres: o mesmo se repete entre empresas, com as pequenas — os pequenos comércios, bares, restaurantes, padarias, e por aí vai — sofrendo muito mais e maiores consequências do que empresas de grande porte, que inclusive se aproveitam do mar de falências para adquirirem ativos a preços módicos.
Os ricos estão ficando mais ricos, e os pobres estão ficando mais pobres na pandemia, o que gera um quadro triste para o períodos pós-pandemia: maior desigualdade do que os índices brutais que vínhamos tendo até o começo de 2020.
Uma das formas de desacelerar o crescimento desse abismo tem receita simples: os governos vêm oferecendo alívio aos seus cidadãos, ainda que em medida menor que a necessidade. O que os mercados não conseguem estabilizar, deve ser tratado pelo estado, sob pena de se criar um exército de famintos e mergulhar o país em uma crise sem precedentes e, possivelmente, sem volta.
Tem alternativa para o auxílio governamental? Tem: os EUA e o Brasil (e o Reino Unido, mas apenas no início da pandemia) optaram por “enfrentar a pandemia de peito aberto”, em nome da economia. O erro grave não evitou o dano econômico e o resultado está sendo colhido em falta de oxigênio, leitos de UTI e empregos, esses últimos em função do período estendido de pico da doença em que nosso governo insistiu em mergulhar o país.
É bom lembrar que no começo de abril, quando já começávamos a dar mostras que não seguiríamos as diretrizes de isolamento social fortemente sugeridas pela OMS, a perspectiva é que o Brasil tivesse seu pico da doença em junho/julho, e a partir daí os números melhorariam e o problema iria embora. O que vimos, infelizmente, foi um pico no fim de agosto, com leve queda e retomada brutal a partir de outubro. E cá estamos, novamente quebrando recordes de média semanal de novos casos e óbitos. Nesse ínterim, por terem seguido as diretrizes da ciência e da OMS, vários países conseguiram levar a doença a patamares bem menos dolorosos, salvando incontáveis vidas. E nesse processo, claro, salvaram empregos e impediram o caos estendido em suas economias.
Ainda assim, a “sobrevivência” à COVID-19 concentrou ainda mais recursos nas mãos de quem já tinha recursos, e removeu recursos de quem já tinha poucos. E isso vai ficar ainda mais claro depois que “a poeira baixar”.
Ou seja: o abismo entre ricos e pobres vai crescer, e o pós-pandemia vai começar com esse abismo em dimensão gigantesca.
8. A globalização não morreu
Em que pese uma doença geralmente levar o nome do local onde é primeiramente reportada (e não necessariamente de onde tenha de fato surgido), doenças não respeitam fronteiras. Zakaria ilustra esse ponto com o caso da Dra. Liliana del Carmen Ruiz, médica argentina da província de La Rioja, que em 31 de março de 2020 faleceu devido às complicações da COVID-19. O caso de Liliana é especial pois ilustra a velocidade de espalhamento do vírus SARS-COV2, pois em pouco mais de 3 meses o vírus havia viajado da província de Wuhan até literalmente o outro lado do planeta. Isto porque La Rioja e Wuhan são locais “antípodas”, ou seja, são os mais distantes um do outro em nosso planeta.
O autor usa o exemplo para mostrar que o vírus não só não tem fronteiras como não respeita limites de velocidade.
Aqui cabe um parêntese importante, feito pelo próprio autor: o local onde o vírus foi primariamente relatado não é necessariamente seu local de origem. Até o momento temos indicação de que o vírus tenha sido relatado primeiramente em Wuhan, China, mas nem sempre é o caso. A Gripe Espanhola que a partir de 1918 mataria mais de 50 milhões de habitantes de nosso planeta não surgiu na Espanha. Ocorre que o surgimento daquela pandemia se deu durante a Primeira Guerra Mundial, um período em que as comunicações globais eram severamente censuradas (por motivos óbvios). A Espanha se declarou neutra naquele conflito, e não censurou suas notícias, sendo a primeira a relatar livremente casos da doença. Por isso, “ganhou-a” de presente. Tudo indica que os primeiros casos da doença tenham ocorrido nos EUA, apesar de não haver comprovação para além do limite da dúvida quanto a isso.
Independente da origem, o que importa é que pandemias são eventos globais, e demandam esforço global concatenado, organizado, para que o problema seja resolvido. Nesse sentido, gritar “É um vírus chinês, e eles que se virem!” equivale a estar com um amigo em um barco a remo, identificar um furo no casco sob os pés do amigo e dizer “Ih, você está com um problemão!”.
Para se identificar o quanto o mundo globalizado é importante no combate à pandemia, basta ver que os médicos consultam periódicos de pesquisa de vários países para entender a doença, os esforços para a produção de vacinas são, no mais das vezes, multinacionais, e no mais das vezes apenas uma boa rede de comunicação global consegue coordenar esforços para conter o avanço da pandemia. Estamos todos juntos nessa pandemia, quer queiramos ou não.
O esforço para o desenvolvimento da Coronavac — vacina da empresa chinesa Sinovac — contou com pesquisas desenvolvidas na China, na Indonésia, na Turquia e no Brasil. A vacina da Pfizer — empresa americana — foi desenvolvida pelo laboratório Biontech, que é alemão. A vacina da AstraZeneca foi desenvolvida em Oxford, mas conta com insumos chineses e é produzida primariamente na Índia.
Em outras palavras: apelar para o nacionalismo em tempos de pandemia é fechar as portas para a solução, pura e simplesmente. O Brasil não teria condições de desenvolver uma vacina tão rapidamente se não tivesse participado de um esforço global, e nenhum ufanismo vai mudar isso. Somos parte de uma comunidade global e ponto.
Sim, o globalismo — em especial as viagens internacionais realizadas em benefício de nossa economia — foi o responsável pelo espalhamento da pandemia, claro, mas é por conta desse mesmo globalismo que as primeiras vacinas estavam prontas e sendo testadas em 9 meses, ao invés de 10 anos.
9. O mundo está se tornando bipolar
Quem, como eu, teve a infância na década de 70 e a adolescência na década de 80 conhece bem o que é um mundo bipolar, sendo que naquela época os dois polos eram fáceis de se reconhecer. De um lado os EUA, país que cresceu longe das intrigas europeias e conquistou sua hegemonia ao se tornar a única potência industrial que sobrou no planeta após o fim da Segunda Guerra Mundial; do outro lado a União Soviética, um império forjado pelos russos que englobava praticamente todo o território do hemisfério norte excluídas as Américas e a Europa Ocidental.
A Guerra Fria foi a decorrência natural daquele mundo bipolar, e depois da queda do império soviético, os EUA reinaram durante décadas.
A pandemia mostrou que hoje vivemos em outro mundo bipolar. De um lado continuam os EUA, mas do outro o “jogador” é diferente: a China.
Zakaria começa o capítulo mostrando o contraste entre as reações das duas maiores potências mundiais diante da pandemia. A China usou todo o poder de seu governo totalitário para rapidamente tomar as medidas mais drásticas possíveis e assim conter o vírus em seu território. Já os EUA, sob a batuta de Donald Trump pularam de cabeça no negacionismo, no “cloroquinismo” e no populismo sem freio.
Os resultados são claros e completamente contrastantes: a China retomou sua economia e hoje já normalizou completamente suas atividades, inclusive liderando — em conjunto/competição com a Pfizer e com a AstaZeneca — o esforço para chegarmos a uma vacina contra a COVID-19.
É óbvio que os EUA continuam sendo a maior potência do planeta: as principais empresas do globo são americanas, as reservas mundiais ainda são medidas em dólar — que é a moeda de troca padrão —, o país conta com o maior arsenal bélico, o maior poderio militar e o maior orçamento para as forças armadas em todo o mundo. Contudo, Zakaria frisa, o “soft-power” dos EUA já não é o mesmo. O poder exercido pela liderança e pelo exemplo já não existe faz um tempo, uma imagem que se acirrou desde a ascensão de Trump ao poder. Do outro lado, a China continua crescendo e aumentando sua envergadura mundial.
A maior parte dos 28 trilhões de dólares da dívida americana está nas mãos dos chineses, para citarmos um exemplo. A China vem aumentado seu parque industrial e investe pesado em educação, ações que atiraram faz tempo do papel de manufatureira de bugigangas e a colocam, por exemplo, na liderança do desenvolvimento de tecnologias de ponta, como o caso das redes digitais 5G. Em 2003 a China entrou para o seleto clube de países que conseguiram colocar um homem no espaço, ao lado dos EUA e da URSS.
No mundo pós-pandemia essa bipolaridade tende a se acirrar, e como a China não sofre dos mesmos problemas estruturais da finada União Soviética, não é possível afirmar que os EUA vão sair vitoriosos desse embate.
10. Às vezes os maiores realistas são os idealistas
A lição final do livro de Zakaria é um aceno para os idealistas do passado, que mesmo defendendo ideias que mais pareciam sonhos, foram os que forjaram a realidade das décadas seguintes.
Os exemplos são significativos: William Gladstone, primeiro ministro britânico em quatro mandatos defendeu o liberalismo político e econômico a partir de 1879, elevando a economia e o poder de influência da Grã-Bretanha; Franklin Roosevelt reergueu os EUA da Grande Depressão por meio de uma estratégia econômica totalmente inclinada para o bem-estar social; Eisenhower — que foi o comandante das forças aliadas na Europa durante a Segunda Guerra e depois foi eleito presidente — defendia a desmilitarização do planeta e o fim das armas nucleares, algo impensável até para o mais bicho-grilo dos pacifistas dos dias atuais. Até Winston Churchill, tão conservador que não escondia seu racismo, defendeu a formação de um grande “Estados Unidos da Europa”, uma união de países com direcionamento político e econômicos compartilhado.
Claro que nenhuma dessas ideias sobreviveu em sua forma original, mas foram fundamentais para forjar muito do mundo que vivemos desde que foram lançadas. Os ideais econômicos de Roosevelt não só reergueram os EUA, mas serviram de alicerce para as democracias do norte da Europa; as ideias de Eisenhower pavimentaram o caminho para os acordos de desarmamento entre EUA e Rússia depois da queda do Muro de Berlim; o idealismo de Churchill se vê refletido na União Europeia (mesmo com a ausência triste da própria Grã-Bretanha), e por aí vai.
A lição aqui é não descartarmos os idealistas, pois serão eles que vão definir como será o mundo no futuro, mesmo que não seja exatamente como em seus sonhos cor-de-rosa.
Zakaria escreveu o livro antes da eleição de Joe Biden para a presidência americana, mas já é visível que o mundo todo está recebendo com bons olhos suas movimentações para voltar para a OMS, para o Acordo de Paris e para reinserir os EUA em um papel de líder pelo exemplo, e não só pela força. Vai funcionar? Não sabemos. Mas faz bem mais sentido que o obscurantismo político da China ou o nacionalismo excepcionalista da era Trump.
A ver.
__________
No fim das contas, Zakaria ilustra em seu livro um futuro que será bastante influenciado pela pandemia, e não é um futuro negro. Pode até demorar alguns anos — ou mesmo décadas — mas é provável que a pandemia seja vista no futuro como um ponto de guinada para o planeta como um todo. E será uma guinada para melhor.
Nossos descendentes agradecem (desde que tomemos o cuidado necessário para sobrevivermos à pandemia e deixarmos descendentes).